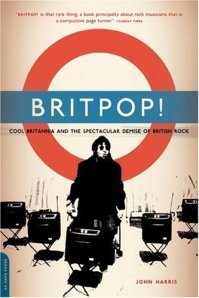Howie Casey na porta de sua casa em Bournemouth
Quando morei em Londres, entre uma andança e outra atrás de violões e discos de vinil, fiquei muito amigo de uma talentosa cantora de soul, Maureen Anderson. Numa de minhas voltas ao Reino Unido, no começo da década, fui até a casa de Maureen para uma visita. Falando casualmente sobre o quanto eu gostava dos Beatles e de como a música deles havia me contaminado de maneira irremediável, Maureen acabou me revelando que era amiga do “cara que recepcionou os Beatles em Hamburgo”, Howie Casey, até hoje muito amigo de Paul McCartney. Fiquei sem dormir durante alguns dias pensando em como estava a apenas um cara de conhecer o velho Paul. Por isso, tomei coragem e pedi que me apresentasse a Casey. Disse que queria entrevistá-lo.
Creio que em função da amizade entre eles, Howie topou me receber. Por e-mail, avisei o editor da revista Senhor F, Fernando Rosa. Achei que ele gostaria de colocar a entrevista em seu site. Para minha surpresa, ele ficou tão animado que achou melhor mandar a pauta para a revista Bizz. Falou com os editores, que demonstraram interesse. De minha parte, nem esperei confirmação: fui para a casa do saxofonista no dia combinado.
O que se seguiu não foi exatamente o esperado. Primeiro, estava claro que ele não iria me apresentar ao ex-baixista dos Beatles. Obviamente, também havia certa relutância em tocar no próprio assunto ‘Beatles. Sabendo que ele era alguém que conviveu com eles antes de fazerem sucesso, eu esperava que pudesse me contar alguma história bombástica. Mas sendo alguém tão próximo de Paul McCartney, Howie não abaixaria a guarda tão facilmente.
No fim, as coisas se equilibraram um pouco. Com alguma insistência, consegui que ele falasse sobre alguns assuntos que viraram tabu no círculo interno dos Beatles, como a saída de Pete Best e a prisão de Paul no Japão. A entrevista, gigantesca, acabou nunca indo parar nas páginas da Bizz. Para meu orgulho, foi manchete da Senhor F. Eu havia sugerido ao Fernando que desse uma editada e cortasse algumas partes, mas ele se recusou a fazê-lo. Como a entrevista não estava mais na rede, achei por bem recuperá-la, na íntegra, neste blog. Abaixo, temos a introdução e a primeira parte. O resto segue embaixo, em outros três blocos. Boa leitura.

Howie Casey (esquerda) e os Seniors: a caminho de Hamburgo
por Fernando B. Cruz
Hamburgo, 1960. No minúsculo palco de um fumacento e mal iluminado clube de striptease do bairro de Saint Pauli, quatro moleques ingleses se esforçam, desesperadamente, para chamar a atenção de dançarinas e marinheiros embriagados. Para isso, empunham guitarras e cantam, com empenho, músicas estranhas àquele público, números de rock’n’roll, uma espécie de blues mais acelerado. Em resposta, piadas, insultos e até cerveja são atirados ao palco com desdém. Uma demonstração de que os garotos não mereciam crédito. Afinal, quem poderia acreditar que aquele grupo de branquelos britânicos, recém-batizado de Beatles, teria qualquer chance de ao menos gravar um disco?
O saxofonista Howie Casey, do então chamado Derry & The Seniors, grupo conterrâneo e companheiro dos Beatles naqueles tempos de dureza e diversão, reconhece que a primeira vez que os viu, ainda em Liverpool, não achou que fossem bons. Mas não tardou até que mudasse de idéia. “Quando vi os Beatles tocando no Indra (em Hamburgo), percebi que haviam progredido 100% ou mais”, revela. Localizado pela reportagem de Senhor F na cidade onde mora atualmente, em Bournemouth, no sul da Inglaterra, Howie, hoje com 63 anos, foi testemunha ocular e pedra importante na sedimentação dos pilares nos quais o rock se estruturou a partir dos anos 60 na Grã-Bretanha.
Liderando a primeira banda de rock de Liverpool a gravar um disco e praticamente revelando aos alemães o estilo inglês de tocar – os Seniors também foram o primeiro grupo de Liverpool a se apresentar em Hamburgo, lugar que em pouco tempo se tornaria palco de uma vigorosa cena musical – Howie viu e sentiu na pele os efeitos provocados por aquele novo e frenético jeito de se fazer música. “Depois do estouro do rock’n’roll na América, a coisa se espalhou por Liverpool como fogo, mudando tudo radicalmente em menos de um ano. A molecada simplesmente pirou”, relembra.
Em entrevista exclusiva concedida a Senhor F, Howie Casey disseca seu passado e recupera memórias da história do rock, com a qual sua vida se confunde. Músico de talento, o saxofonista relembra o início da carreira em Hamburgo, a explosão da beatlemania e a descoberta e a paixão pelo soul. Revela também o privilégio de colaborar em discos de grupos da estatura do Who (Quadrophenia) e Wings (Band On The Run). Por fim, Casey entrega os bastidores de histórias (agora) hilárias como a prisão de Paul McCartney no Japão e opina sobre assuntos polêmicos, a exemplo da saída de Pete Best dos Beatles. “Se ele (Best) era tão ruim, por que todas as bandas queriam tê-lo como baterista quando saiu dos Beatles?”. A seguir, a íntegra da entrevista, feita na sala de estar da casa do músico durante uma agradável de tarde de fim do outuno inglês, regada a chá preto e biscoitos.
Parte I: O rock’n’roll incendeia Liverpool e os Beatles invadem Hamburgo

Capa do disco de Howie Casey & The Seniors
Senhor F – O que levou você a ser um saxofonista?
Howie Casey – Quando eu era criança, o rock’n’roll ainda não havia acontecido, o que nós tínhamos de mais próximo era o blues e o jazz, do qual por sinal virei fã. A guitarra ainda não tinha a importância que passou a ter com a chegada de Chuck Berry, Bill Halley e Elvis. Um dia, eu e mais dois amigos resolvemos montar uma banda para conseguir algumas garotas. Era o grande lance: ter algum prestígio poderia facilitar nossa vida com as garotas! Quis ser baterista porque tinha um certo status na época, mas aí um dos caras falou “eu sou o batera!” Pensei então que poderia tentar o sax. Mas só passei a tocar mesmo quando servi o exército.
Senhor F – E como foi a transição para o rock’n’roll, quando você montou a sua banda?
Howie Casey – Eu montei a minha banda (Derry & The Seniors) no final de 59. A formação era eu no saxofone, Derry Wilkie nos vocais, Jeff Wallington na bateria, Billy Hughes, guitarra rítmica e vocais, Brian Griffiths na guitarra solo e Phil Whitehead no baixo. O que aconteceu foi que depois do estouro do rock’n’roll na América, a coisa se espalhou por Liverpool como fogo, mudando tudo radicalmente em menos de um ano. Nessa época (entre 59 e 60), a molecada simplesmente pirou, fazendo de tudo para aprender a tocar. Nada mais parecia importar.
Senhor F – A sua banda logo se destacou na cena, conseguindo apresentações e contatos. Como foi o encontro com Allan Williams e os Beatles?
Howie Casey – Allan Williams era o gerente de um café chamado Jacaranda e, mais tarde, do clube Blue Angel. Naquela época era um problema, a polícia costumava invadir os pubs por volta de 11 e meia da noite para verificar se ainda havia gente bebendo depois das últimas ordens. Eles colocavam papel celofane em volta dos copos de cerveja que ainda estivessem cheios depois do horário marcado, enrolavam um elástico em volta e pegavam aquilo para mostrar como “evidência”. Terrível (risos)! Então era complicado porque as pistas de dança fechavam entre 11 e meia e meia-noite, mas o bar fechava antes, 10 e meia. A maioria das pessoas enchia a cara para poder manter o pique até meia-noite. Mas, voltando ao Alan, no Blue Angel havia dois andares. No andar de cima, tinha um pianista e no de baixo, as bandas de rock. Um dia ele falou que conhecia um cara, Larry Parnes, que estava indo para Liverpool procurar bandas de apoio para participar de shows dos cantores dele. Os cantores tinham nomes como Dicky Pride, Duffy Power, era sempre Power, Pride, Gentle (Johnny Gentle, para quem os Beatles abriram shows na desastrosa primeira turnê que fizeram fora de Liverpool, na Escócia, ainda com o nome de Silver Beatles). Esses cantores apareciam na TV e a idéia dele era pegar bandas baratas de Liverpool e levá-las para lugares como Blackpool, não longe de Liverpool, no verão, para tocar. Os grupos tocariam quase de graça para abrir os shows. Ele promoveu uma audição no clube com várias bandas. Estavam lá o Big Three, a gente, Rory Storm, todos querendo o emprego. E havia uma banda nova, uns estudantes de arte que ninguém tinha visto e que conheciam o Allan. Eram o que viria a ser conhecido como os Beatles.
Senhor F – Não eram Beatles ainda, eram?
Howie Casey – Não, eram os Silver Beatles.

Estes moleques petulantes compareceram a uma audição sem baterista
Senhor F – É verdade que quando os viu pela primeira vez você achou que eles não eram bons?
Howie Casey – Bem, todo mundo conhece a história e ficou fácil falar “ah, você disse que os Beatles não eram bons, blá blá blá” (faz voz de quem está debochando). O fato é que… Já contei isso tantas vezes (risos)… Mas vamos colocar a coisa nestes termos, nós (os Seniors) não éramos exatamente profissionais, mas tínhamos mais experiência do que eles e a maioria das bandas. Os Beatles chegaram para a sessão sem baterista, estavam lá John, Paul, George e Stu (Stutcliff, amigo de John e baixista do grupo na época) e acho que eles pediram ao baterista do Big Three, um músico muito bom, um dos melhores de Liverpool, para tocar com eles. Ele topou dar uma força e, verdade seja dita, a presença dele fez com que eles soassem melhor do que eram de fato. A verdade é que eu não reparei muito neles, era apenas mais uma banda, estávamos todos interessados em conseguir o trabalho. Ao final da audição, Alan Williams nos disse que iríamos tocar. Os Beatles também foram chamados para tocar com Johnny Gentle. Mas por alguma razão o “nosso” cantor não estava no show! Então fomos ver Allan Williams, Derry e eu. A história ficou famosa porque ele disse que entramos lá para bater nele, o que é uma grande mentira, era o Allan sendo melodramático (Howie gargalha)! Está nos livros! Disse que eu cheguei com mãos de gigante – gigante, eu! (Howie tem pouco mais de 1,80), o levantei contra a parede e Derry o empurrou pela porta! Tudo conversa. Na importa, algumas pessoas gostam desse tipo de história. Mas fomos lá porque largamos nossos empregos e estávamos desesperados. E ele disse “não se preocupem, nós vamos para Londres”. Ele conseguiu dois carros e alguns dias depois, pegamos nossos amplificadores, o sax e fomos para lá. A idéia era tocar no Two Ice Coffee Bar, em Soho (Londres), um lugar famoso onde bandas tocavam durante o dia e à noite. Chegamos lá e nos sentimos meio estúpidos, tipo “o que vamos fazer lá? Vamos ser descobertos?” Allan conversou com o cara que gerenciava o lugar e ele, meio relutante, disse “ah, tudo bem, vamos deixar eles tocarem, mas não vão nos dar nenhum lucro”. A gente desceu, havia algumas pessoas e uma banda levando um som tipo Shadows, bem vestidos, com os movimentos de guitarra e tudo mais. A gente era só um bando de estúpidos e desajeitados garotos de Liverpool. Pensamos “que droga, eles vão rir na nossa cara”. Mas tocamos e foi tudo bem, Derry fez um bom trabalho, ele era bom para lidar com o público. Na platéia, estava Bruno Koschmider, dono do Kaiserkeller, em Hamburgo, e ele estava procurando por uma banda para substituir a banda de Tony Sheridan, que havia se mudado para um outro clube, o Top Ten. Na banda de Tony Sheridan, havia um cantor negro americano e naturalmente ele (Bruno) queria uma banda inglesa que tivesse um cantor negro para substituí-la. E, claro, lá estávamos nós com um cantor negro, tocando rock’n’roll. Bruno não falava inglês muito bem e a gente não sabia quase nada de alemão, então um cara que trabalhava num restaurante suíço do outro lado da rua e que sabia inglês nos ajudou com o contrato. Fechamos para ganhar 15 libras por semana cada um, o que não era de todo ruim.
Senhor F – Foi o seu primeiro show fora de Liverpool?
Howie Casey – Eu estive na Alemanha, na época em que servi, tocando na banda do exército. Nós fizemos algumas apresentações, mas nada parecido com aquilo. O engraçado de tudo é que a gente não tinha permissão para trabalhar, eles não arranjaram visto. Saímos de Liverpool para a Holanda e de lá pegamos um trem para Hamburgo. Quando o trem parou para o controle de passaporte, eles olharam para os instrumentos, olharam para a nossa cara e perguntaram o que a gente iria fazer lá. Respondemos: “somos turistas, mas trouxemos nossos instrumentos para curtir melhor a viagem”. E eles, “claro, claro. Todo mundo fora do trem (risos)!” A gente saiu, ficamos ali na plataforma, sem dinheiro, cansados da longa viagem e pensando no que fazer. Ligamos para o Kaiserkeller e, como era dia, é claro que estava fechado. Ligamos para o Alan, na Inglaterra, “Alan, eles vão mandar a gente de volta”. E o Alan, “fiquem aí mesmo, vou ligar para a casa do Bruno”. O Bruno tinha suas conexões, sabe como é, o cara era dono de clubes de striptease, não diria que era um mafioso, mas conhecia muita gente, tinha até amigos na polícia. Bruno falou “deixem eles entrar e eu vou conseguir os vistos de trabalho quando chegarem”. Pegamos outro trem e finalmente chegamos em Hamburgo. Mas, no final, nunca conseguimos os vistos! Tocamos em Hamburgo todo aquele tempo sem permissão (risos)!
Senhor F – Nenhuma das bandas que foram para Hamburgo tinha?
Howie Casey – Não. Quando saímos do Kaiserkeller e fomos convidados para o Top Ten, eles nos disseram “vocês precisam conseguir visto, vão à embaixada e acertem tudo”. Mas pelo fato de que estávamos tocando há uns três meses sem visto, não conseguimos. Quando chegamos lá tomaram nossos passaportes e disseram “vocês vão pra casa”. Simplesmente fomos deportados da Alemanha (risos)! Chegamos lá, uau, a primeira banda de rock de Liverpool na Alemanha e acabamos deportados!
Senhor F – Mas vocês voltaram depois.
Howie Casey – Eu voltei, mas não com os Seniors, com o Kingsize Taylor.
Senhor F – Qual era a grande diferença entre a cena de Hamburgo e de Liverpool?
Howie Casey – Bom, a garotada de lá era bem descolada, tinham estilo, mas musicalmente, não havia muitas bandas de rock’n’roll. Havia uma boa banda que se aproximou da gente, chamada The Bats, mas eu não me lembro de ter visto muitas bandas alemãs. Tenho certeza de que havia músicos, mas não moleques formando bandas. Mais tarde, quando eu voltei para entrar no Kingsize, acho que em 1962, havia muitas outras bandas, como The Rattles. O negócio é que os grupos britânicas tinham a vantagem da língua, nós falamos a mesma língua dos americanos e, bem, eles também falam a mesma língua que nós falamos (risos) e isso fazia a diferença. Os garotos (alemães) sofreram uma forte influência de todas aquelas bandas britânicas, além das americanas, é claro, porque o Star Club costumava apresentar The Everly Brothers, Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Bo Dilley, grandes artistas americanos. E as bandas britânicas abriam os shows.
Senhor F – Quando os Beatles chegaram em Hamburgo, vocês já estavam tocando no Kaiserkeller. Como foi esse início, as jam sessions? O Stu participou de jams com o seu grupo nos intervalos, não?
Howie Casey – Os Beatles chegaram para tocar no Indra, que era um bar muito pequeno, na verdade um clube de streaptease. Havia um palco minúsculo no canto (aponta para o canto da parede da sala da casa, uma área de cerca de dois metros). Junto ao balcão, os alemães chegavam para tomar umas cervejas e ver os shows das dançarinas. E os caras colocaram os pobres dos Beatles naquele canto para tocar (risos).
Senhor F – O que acontecia por lá, além dos shows? Brigas e coisas do tipo? Imagino que não devia ser o tipo de lugar para o qual você levaria a sua mãe (risos)…
Howie Casey – Claro que não (risos)! O lugar existia para o sexo. Toda aquela área, (o bairro) St. Pauli, estava ligada à indústria do sexo. Tudo o que você quisesse, podia conseguir lá.
Senhor F – Isso inclui encrenca também.
Howie Casey – É claro, porque havia gangues em certas áreas e o Bruno Koschmider tinha gente trabalhando para ele no bar, gente que estava pronta para brigar. Ele era um cara poderoso naquela área, podemos dizer. E aqueles gangsters não brigavam com outros (gangsters), eles batiam nos clientes que não pagavam a conta. Era comum você ver gente pobre sentando e o garçom “uma cerveja?”, e antes que você se sentasse havia uma cerveja na mesa! Os preços eram altos e, claro, você tinha que pagar. E na Alemanha não se paga a cada cerveja consumida, a conta vem no final. Então, depois de um tempo, já bêbados, eles não aceitavam pagar porque achavam que era muito mais do que estavam esperando. Aí criavam caso. O próximo passo era (faz gesto de quem está esmurrando alguém) e o cara era chutado por todo o lugar. Do palco dava para ver a confusão. Eu me lembro de uma vez em que estava tocando e vi um cara apanhando de uns quatro ou cinco garçons. Eles o levaram para a gerência eu pensei, “que sacanas!” Tirei meu saxofone, entrei no escritório e eles estavam socando o cara em volta do quarto. Falei para pararem, eu, o “herói do dia”. Aí levei o cara para fora.
Senhor F – Isso foi no Kaiserkeller.
Howie Casey – Foi. E eles simplesmente olharam para mim e riram. Achavam aquilo muito engraçado, porque poderiam ter me enchido de porrada sem o menor problema, se quisessem. Mas aquilo era demais, muita covardia com o cara.
Senhor F – Se você não fosse músico contratado, provavelmente estaria em encrenca.
Howie Casey – Os músicos de Koschmider eram protegidos, essa era uma das leis, éramos intocáveis. Pelo que eu sei, pouquíssimos músicos apanharam. Mas sabendo disso, os músicos se comportavam mal porque estavam garantidos.
Ouça o som dos Seniors: http://www.youtube.com/watch?v=QCbUuBSz6U0